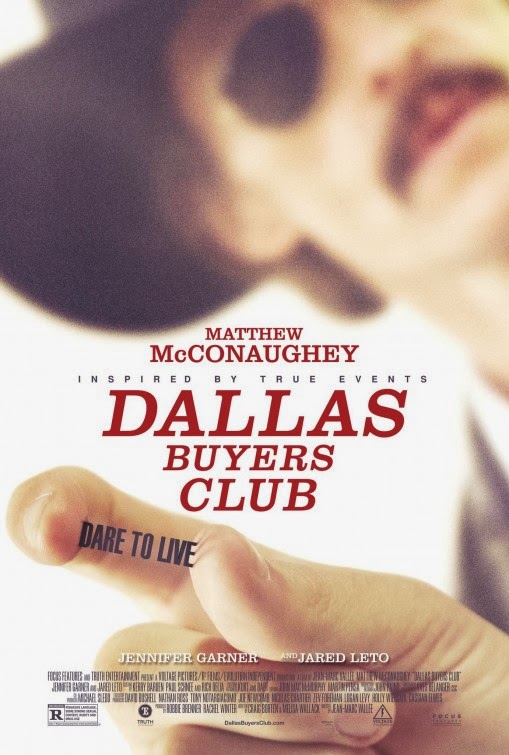"Sobrevive para contar a história" (Livre tradução da frase disposta no poster promocional do filme).
Uma coisa é certa, apesar do chocho título nacional e do original ser um baita spoiler (piada!), O Grande Herói (Lone Survivor) é um baita filme de ação, além de um registro histórico contemporâneo bacana, apesar do ufanismo norte-americano. Dirigido e adaptado com competência pelo também ator Peter Berg (O Reino, Hancock), além de ser estrelado por um elenco para lá de competente (sim, até mesmo Mark Wahlberg encontra-se bem), o filme tem como base o livro autobiográfico escrito por Marcus Luttreel e Patrick Robinson, que narra a missão frustrada de um grupo militar no Afeganistão. Há uma boa pitada de patriotismo tanto na condução de Berg quanto no próprio conteúdo do evento narrado, mas o foco no tema sobrevivência é tão forte que alguns excessos acabam não sendo assim tão prejudiciais.
A construção de O Grande Herói segue o "be a bá" da "jornada do herói", iniciando com a batida introdução de personagens, seguido pelo chamado a aventura, pelo dilema a ser resolvido e, por fim, o alcance da redenção. Todavia, previsibilidade a parte, o grande barato da obra encontra-se na sensação de verossimilhança construída por Peter Berg e cia., que acabam entregando uma peça coesa não apenas no quesito ação (afinal de contas, temos aqui um filme de ação), mas especialmente no elemento tensão, talvez o maior responsável por toda a "obviedade" apresentada funcionar.
É fato que O Grande Herói tem por essência a velha premissa de sobrevivência a qualquer custo do heroico soldado norte-americano, mas a condução de Peter Berg
e do elenco principal consegue, na maior parte da obra, transferir esta
tal orientação patriótica de maneira universal, destacando bem mais o
conflito interno das personagens e a necessidade de sobrevivência mais próxima do instintivo, do animalesco, do que de algo como elemento inerente ao valente soldado norte-americano ou qualquer outra bobagem neste sentido. O terceiro ato do filme talvez seja o mais prejudicado no contexto geral, já que enfoca na "salvação" do sobrevivente americano pelo afegão "bonzinho", só que não há contextualização desta bondade, sendo esta no mínimo gratuita e conveniente. Não questiono a veracidade do fato no qual tal sequência foi baseada, mas sim na construção trôpega do roteiro neste momento. Por outro lado, o fato dos inimigos à caça dos soldados não serem construídos de forma vilanesca - como entes malvados e genéricos -, mas simplesmente como opositores - já que em um conflito devem existir pelo menos dois lados - é um grande acerto de Berg e cia., o que acaba por deixar a trama um tanto afastada do cunho maniqueísta e a aproxima de um viés mais universal.
Como todo bom filme de ação o aspecto técnico acaba obtendo maior destaque e em O Grande Herói não poderia ser diferente. A direção de fotografia conduzida pelo alemão Tobias Schliesser (Dreamgirls - Em Busca de um Sonho) certamente é um dos atrativos, pois além de capturar imagens belíssimas e com um quê de romantismo (há um toque de Emmanuel Libezki no trabalho apresentado por Schliesser), transmite urgência através de seus enquadramentos e movimentos de câmera, que aliados ao ótimo trabalho da equipe de som - por sinal, merecidamente indicada ao último Oscar - (Andy Koyama, Beau Borders, David Brownlow - mixagem de som - e Wylie Stateman - edição de som), preenchem as possíveis lacunas deixadas pelo roteiro e estabelecem quase que por completo o clima pretendido pelo filme. Também merece registro o trabalho de montagem Colby Parker Jr. (A Colheita do Mal) e a seleção musical de Steve Jablonsky (Ender's Game - O Jogo do Exterminador).
Como dito mais acima a escalação do elenco foi no mínimo apropriada, já que reuniu alguns "jovens" talentos (à exceção de Wahlberg, figura mais que carimbada em terrenos hollywoodianos) cujas carreiras são mais marcadas (com raras exceções) por papéis de suporte, mas que aqui ganham um pouco mais de espaço. O tato dramático de nomes como Ben Foster (360) e Emile Hirsch (Killer Joe - Matador de Aluguel), além da forte presença física de Taylor Kitsch (Selvagens) e do carisma de Eric Bana (Star Trek), ajudam à conexão para com a história narrada, visto que, apesar desta não desenvolver tanto seus personagens, a entrega do elenco acaba sobrepujando tal deficiência.
Empolgante e reverente no limite certo, O Grande Herói é, sem sombra de dúvidas, o melhor trabalho de Peter Berg como diretor - espero que após este êxito criativo e comercial ele pare de tentar ser um apêndice de Michael Bay - e um dos (poucos) acertos no rol de filmes a registrar/homenagear eventos passados nas últimas duas guerras protagonizadas pelos filhos do tio Sam. Certamente o filme peca na apresentação do conteúdo político (pouco abraçado) e até mesmo no equilíbrio do tom empregado (em alguns momentos o exagero de certos acontecimentos incomoda), mas funciona impecavelmente nos quesitos tensão e ação, elementos estes reforçados pela qualidade do elenco principal. No mais, tem-se aqui um bom filme com uma boa história.
Quer saber quantas estrelas dei para o filme? Acesse minha conta no Filmow.
TRAILER
Mais Informações: